A escrita (trans)formativa como modo de construção identitária de pedagogos
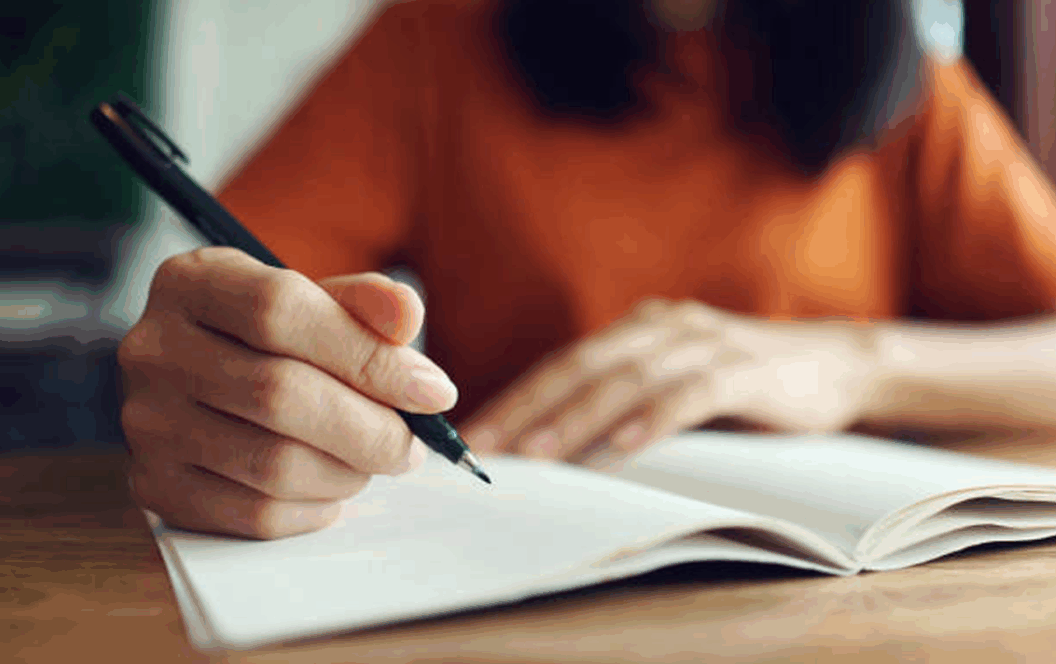
A escrita é uma prática social necessária em ambientes de trabalho pedagógico. A autora convida os pedagogos a escreverem espontaneamente suas reflexões como parte de seu trabalho pedagógico, mas fora do que é regulamentado como obrigatório ou puramente formal. Essa forma de escrita, inspirada na "escrita de si" de Foucault, auxilia o escritor a se compreender e se torna um modo de construção de identidade para os educadores.
“Amolengar” (Freire, 1989, n.p.). A partir do quintal de sua infância, a leitura do mundo de Paulo Freire o condicionou à leitura de textos, palavras e letras próprias do contexto, encarnadas nos movimentos, nas cores, nas outras vidas e nele. Observando as mudanças de cor da manga-espada amadurecendo, vinculada à mangueira; e depois, degustando-a com modos que fazia e via fazer, Freire conta ter aprendido a significação do verbo amolengar. Compreendeu o sentido do verbo vivido desde a infância.
Ao contar-se educador com esse verbo amolengar, que é palavramundo só dele, Paulo Freire (1921-1977) impulsiona, em mim, a conscientização (Freire, 2016) acerca de como o contexto de trabalho afeta a construção identitária de pedagogos. Escrevo, esperançando que esse impulso afete outros sujeitos, que essa tessitura conflua com os processos de emancipação humana e transformação social de que fazemos parte.
A escrita é uma prática social necessária nos ambientes de trabalho pedagógico. Escrever é um modo de dar ensejo à conscientização sobre nossos modos de nos fazermos presentes. Não uma escrita regulada por normas e burocracias. Não uma escrita para competir. Não uma escrita restrita ao cumprimento de metas institucionais.
É necessária uma escrita respaldada por uma lógica institucional de racionalidade substantiva (Guerreiro Ramos, 1981), confluente com o reconhecimento da urgência da superação de modelos de educação bancária. Uma escrita autoral, com origem nas reações dos pedagogos a como seus trabalhos os afetam, os inquietam, os formam e os transformam, conforme a harmonização possível entre suas dimensões humanas e suas interações. Uma escrita criativa, que acolha e inspire, em vez de cansar.
Ao discorrer sobre a “escrita de si”, Foucault (1992) possibilita-me pensar sobre como a prática social da escrita pode ser (trans)formativa (Cruz, 2023), também em contextos com normas de funcionamento e de interação entre os sujeitos bem estabelecidas.
Foucault (1992, n.p.) pontua que a escrita desenvolvida como ação individual, livre da obrigação de submissão a avaliações alheias, quando realizada como exercício, com constância, “atenua os perigos da solidão; dá o que se viu ou pensou a um olhar possível; o facto de se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro, ao suscitar o respeito humano e a vergonha”.
E caso tenha surgido, ao final da leitura do parágrafo anterior, a pergunta: _ Vergonha?, a resposta é: _ Sim, vergonha. Explico. No livro A coragem de ser imperfeito, Brené Brown (2016) discorre sobre a vergonha. Trata-se de um sentimento com que o ser humano tem profunda dificuldade de lidar e suportar. Tomado de vergonha, torna-se inevitável, a todos nós, o desconforto e a possibilidade de desconexão com os outros e/ou com o contexto.
Ciente do peso do sentimento de vergonha, o sujeito tende a empenhar, sistematicamente, os esforços que lhe são possíveis para evitá-lo. Então, Brown (2016) sugere a postura de assunção de vulnerabilidades e atitudes propositivas como forma de enfrentamento desse sentimento, em substituição à busca por (uma falaciosa) perfeição.
A escrita torna-se (trans)formativa, quando autoriza ao escritor saber-se, escrevendo-se. A escrita (trans)formativa, inspirada na escrita de si foucaultiana, torna-se modo de construção identitária de pedagogos à medida que a organização e a implementação do trabalho pedagógico lhes convidam a escrever espontaneamente e lhes permitem fazer isso, como parte do trabalho, porém fora das linhas do que está regimentado como obrigatório.
A escrita torna-se (trans)formativa no campo sensível da construção identitária de pedagogos, quando esses sujeitos de função social bem definida escrevem com intencionalidade assumida de refletir a respeito de como o cotidiano de trabalho lhes afeta, inquieta, ensina, molda e modifica, cotidianamente. O formato da escrita (trans)formativa é livre, condizente com aptidões e preferências pessoais.
Esperançar também tem a ver com perseguir, rumo ao horizonte, a utopia de que em todo contexto de atuação pedagógica haja condições de uso efetivo de tempo, espaço e permissão, para uma escrita pela qual não seja necessário prestar contas dentro de uma hierarquia.
Paulo Freire (1921-1977) construiu a significação da palavra boniteza a partir de como sentia a presença de sua esposa Nita, Ana Maria Araújo Freire, em sua vida. Boniteza é a indissociabilidade entre o belo, o bom e o ético (Freire, 2021). Nos contextos de atuação dos pedagogos, sua função social é atravessada por essa boniteza freireana. Pedagogos organizam modos de afetar outras vidas, conferindo educabilidade às práticas sociais que seu trabalho abarca. Isso fomenta a transformação social.
Nessa perspectiva, a escrita (trans)formativa potencializa as condições de conscientização e de exercício da boniteza a partir da autopercepção dos pedagogos e de si mesmos no e para o contexto de trabalho. Ou seja, escrever desse modo afeta a construção identitária profissional dos pedagogos tanto individualmente quanto como parte de um coletivo.
Considerando que a identidade profissional, assim como a pessoal, é uma construção cultural que se dá por meio de interações, torna-se relevante pensar o texto como artefato (Silva; Hall; Woodward, 2014) de sociointeração e letramentos. O modelo analítico do Circuito de Cultura de Paul du Gay et al. (1997) é uma referência para dialogarmos sobre o fato de que um texto autoral, elaborado por meio da prática social da escrita (trans)formativa e consumido por pedagogos no ambiente de trabalho, pode alavancar as condições de pertencimento e construção identitária.
Quando um pedagogo produz um texto, ele pontua e reflete sobre questões que também dizem respeito aos seus pares, podendo gerar representatividade. Ao compartilhar esse texto, nas dinâmicas de trabalho, o autor o coloca em situação de consumo: apreciação, fruição, análise – fomentando diálogos e outras reflexões a partir dele e das reações a ele.
Tais diálogos interferem nos processos de conscientização, regulando ações, emoções e reações, interferindo, portanto, nos modos de atuação profissional. Um mesmo sujeito constrói para si identidades diversas, intercomplementares e não fixas (Silva; Hall; Woodward, 2014).
Corroborando esta tessitura de sentidos, revisito os sentidos do pensamento de Marina Colassanti (1972), quando usa da poesia para alertar que nós nos acostumamos a coisas demais, para não sofrer. As identidades profissionais dos pedagogos podem ser construídas ao passo que a escrita (trans)formativa é legitimada como modo essencial de sentir, pensar e agir (Ribeiro; Dias, 2021) no e com o trabalho pedagógico.
Por ora, aprofundamos os diálogos sobre o fato de que, pessoal e institucionalmente, não precisamos nos acostumar nem normalizar que se acostumem a escrever apenas para relatar situações ou registrar dados, em formulários e sistemas de gestão e acompanhamento.
Podendo escrever para saber-nos, não parece justo que nos acostumemos a escrever apenas para entregarmos tarefas. É possível e (trans)formativo ampliarmos o universo de linguagens, formas e perspectivas de escrita, a partir da leitura de mundo. Por que não?
Edinéia Alves Cruz é doutoranda em Linguística (PPGL/UnB), mestre em Administração (Fead MG), especialista em Supervisão Escolar (FIJ) e em Educação do Campo (UnB), licenciada em Pedagogia (FACTU), Letras – Português/Inglês (FCJP) e Artes Visuais (Claretiano). Pesquisadora dos grupos da Universidade de Brasília, vinculados ao CNPq: (Socio)Linguística, Letramentos Múltiplos e Educação – Soleduc, Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa – Gecria; e Laboratório Interdisciplinar de Educação, Cultura & Arte – Labeca. Professora da SEEDF, atuando como supervisora pedagógica da Escola Parque da Natureza de Brazlândia.
Referências
- BROWN, Brené (2016). A coragem de ser imperfeito. Rio de Janeiro: Sextante.
- COLASANTI, Marina (1996). Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco.
- CRUZ, Edinéia Alves (2023). Construções identitárias e educação do campo no espaço-tempo da coordenação pedagógica coletiva na Escola Parque da Natureza de Brazlândia. Trabajo final de curso (Especialización en Educación del Campo) — Brasilia: Universidad de Brasilia.
- DU GAY, P. et al. (1997). Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. Londres: Sage.
- FREIRE, Paulo (2016). Conscientização. Traducción de Tiago Leme. São Paulo: Cortez.
- FREIRE, Paulo (1989). A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. Colección Polêmicas do nosso tempo, vol. 4. São Paulo: Cortez.
- FREIRE, Ana Maria Araújo (ed.) (2011). A palavra boniteza na leitura de mundo de Paulo Freire. São Paulo: Paz e Terra.
- FOUCAULT, Michel (1992). A escrita de si. In: O que é um autor? Lisboa: Passagens. pp. 129-160.
- GUERREIRO RAMOS, A. (1981) A nova ciência das organizações – uma reconceituação da riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV.
- RIBEIRO, Djonatan Kaic; DIAS, Juliana de Freitas (2021). Comunidades de mudanças: abraçando mudanças de sentir, pensar e agir em pesquisa social crítica. In: DIAS, Juliana de Freitas (Org.). No espelho da linguagem: diálogos criativos e afetivos para o futuro.
- SILVA, Tomaz Tadeu da (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn (2014). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes.


