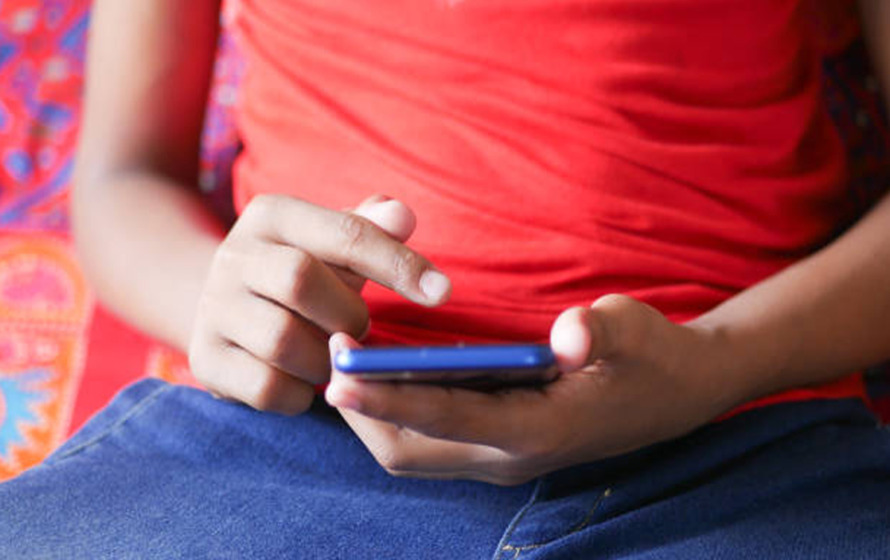Educar leva seu tempo (e a IA não o sabe)

A inteligência artificial (IA) tem chegado às aulas na mão do próprio aluno, e já forma parte dos catálogos de formação docente. Será o início de uma grande transformação educativa? A tese de um livro de Carlos Magro e Tíscar Lara é que a IA se alinha perfeitamente com as promessas neoliberais de eficiência e produtividade, mas não revolucionará a educação porque caminha em direção oposta ao que a escola necessita para uma verdadeira transformação.
Em março de 2022, o inesquecível Nuccio Ordine era investido como doutor honoris causa pela Universidade Pontifícia de Comillas, em Madrid. Diante de uma audiência atenta, o professor calabrês, falecido em junho do ano seguinte, assegurava que “toda a cadeia do mercado de ensino se colocou ao serviço do chamado crescimento econômico, das exigências do mercado e das empresas”, e criticava a lógica economicista que tem gerado uma visão utilitarista da educação, na qual a tecnologia digital tinha um peso importante: “a confusão entre a urgência e a normalidade tem reforçado o número de partidários convencidos de que a escola moderna é uma questão de computadores e de quadros conectados, e não de bons professores”, sustentava.
Sua tese não era nova. Apresentou-a meses antes, em uma tribuna publicada no El País, na qual, sob o título provocador – Os estudantes não são frangos para engordar -, criticava a renúncia dos centros educativos em sua função essencial: “formar cidadãos cultos, solidários, dotados de senso crítico e de consciência civil”. Ordine denunciava que “toda a cadeia educativa se colocou ao serviço do chamado crescimento econômico, das exigências do mercado e da empresa. Em definitiva, as teorias neoliberais têm imposto seus princípios ao mundo da educação”. Diante da prioridade das “competências” e “habilidade” que têm contribuído a criar uma perigosa visão utilitarista do estudo, o autor de A utilidade do inútil (2013) recomendava “reduzir a velocidade”, “perder tempo”, porque “se o consideramos bem, o conhecimento, as relações humanas e nosso vínculo com a vida necessitam sobretudo ‘lentidão’”.
“O conhecimento, as relações humanas e nosso vínculo com a vida necessitam, sobretudo, lentidão”
A mensagem de Ordine conecta com o sentido profundo da palavra “escola”, que, como sinaliza Irene Vallejo, procede do grego scholé, que significa ócio, tempo livre: “Nossos antepassados pensavam que as horas de estudo são um recreio para si mesmo, diante do trabalho, que lhe põe ao serviço de um dono ou do dinheiro”. Mas as diretrizes dos órgãos multinacionais – questionadas por Ordine -, que condicionam cada vez mais os parâmetros internacionais da educação, movem-se com uma lógica oposta, de orientação a resultados, buscando a eficiência do sistema. Nada mais longe desse tempo lento e prazeroso de a scholé grega.
A educação não pode ser reduzida a um processo técnico
As teorias neoliberais sonham com um modelo de educação fácil de aplicar e de escalar, como uma espécie de franquia em que metodologias contrastadas (inclusive respaldadas pelas evidências) se apliquem com uma precisão técnica que assegure as aprendizagens, independentemente do professorado e do contexto. A verdade é que, se isto funciona, seria o final das escolas e dos docentes, porque uma educação como esta seria facilmente automatizada, e se cumpriria o vaticínio de alguns visionários tecnológicos – entre eles, Bill Gates – sobre a provável substituição dos docentes por IA.
Mas a educação é uma interação profundamente humana, baseada na relação direta, respeitosa e cordial entre um adulto formado e um aprendiz. Por isso, educar é uma operação incerta e imprevisível, que não se pode automatizar. Isto é o que Gert Biesta (2017) chama de “o belo risco de educar”, o risco de que as metodologias não funcionem, porque não educamos a robôs, senão a seres humanos singulares e imprevisíveis. Para Biesta, a educação sempre implica um risco porque não se pode ver aos alunos como objetos para serem moldados ou disciplinados, senão como sujeitos de ação e responsabilidade. Portanto, educar é assumir a fragilidade da relação de aprendizagem e requer tempo e espaço para fazê-lo bem e com todas as pessoas. Educar leva seu tempo.
Inclusive, as evidências têm suas limitações, porque o que funciona em uma aula pode não funcionar em outra, ou com distintas idades, ou a diferentes horas, ou com outras áreas de conhecimento, ou não com todo o alunado. Como explica Héctor Ruiz (2020, p.11), “nenhum método educativo é infalível sempre, nem para todos os estudantes, nem para todos os propósitos, nem para todos os contextos”. E ainda o expressava de forma mais enfática, se cabe, o sociólogo Julio Carabaña, sempre antitético: “dá-me uma evidência educativa e eu te encontrarei a um aluno com o qual não funciona” (uma afirmação que, por outro lado, poderia subscrever qualquer docente). Neste sentido, no prólogo do excelente livro de Geoff Pety, Uma educação baseada em evidências (2023), o próprio John Hattie reconhece que “evidência é seguramente o término mais controvertido em nossa profissão. Algumas pessoas dão preferência à evidência publicada em revistas, outras a sua experiência como docentes; mas a habilidade está em combinar estes dois tipos de evidências” (Petty, 2023, p. 6).
De modo que há que saber combinar a informação dos meta-análises, que são orientações estatísticas sobre o que funciona em educação, com o saber especialista das equipes docentes, que têm assumido com determinação seu alunado e seu contexto concreto. Por isso, para ensinar não fazem falta receitas, senão uma equipe capaz de discernir, em todo momento, sobre o que é pedagogicamente pertinente.
Uma relação com costuras
Atribui-se a Noam Chomsky a ideia de que educar não deve parecer com o encher uma garrafa, mas como ajudar a uma flor a crescer à sua maneira. A escola seria esse espaço de maturação, no qual as pessoas florescem sem pressões externas. Mas as tecnologias digitais são aceleradoras dos processos do sistema educativo e, ainda, amplificam o efeito de ditos processos: melhoram o que vai bem e pioram o que vai mal.
Neste sentido, as tecnologias digitais e, especialmente a IA, a grande aceleradora, alinham-se perfeitamente com as promessas neoliberais de eficiência e produtividade, como se a educação pudesse ser reduzida a um processo mecânico e preciso. Mas a IA generativa não revolucionará a educação porque caminha em direção oposta, ao passo que a escola necessita uma verdadeira transformação.
Esta é a tese central do livro “IA e Educação – Uma relação com costuras”, de Carlos Magro e Tíscar Lara, apresentado recentemente no Espaço Fundação Telefônica de Madrid. Para os autores, as promessas da IA na educação (produtividade, eficiência, automatização e personalização) estão mal propostas e, longe de supor o benefício, escondem sérias ameaças de acelerar ainda mais as próprias debilidades da educação e contribuir a seu colapso.
Explicava na apresentação Tíscar Lara que o mundo da tecnologia nos prometia algo sem atrito, sem costuras, uma espécie de plug and play que faz com que o uso dos dispositivos seja cada vez mais fácil e transparente. A tecnologia e a IA generativa, especialmente, nos promete eliminar as costuras, mas aprender exige esforço, e a IA põe em perigo o processo de aprendizagem. A educação trabalha desvelando costuras, porque trabalhamos com seres humanos vulneráveis.
Por isso, sustentava Lara, que não devemos somar-nos acriticamente à onda tecnológica da IA, à ansiedade do agora ou nunca, à urgência de fazer algo com IA seja como for. Em muitos centros educacionais, a IA é a nova “cereja” imprescindível para que algo seja inovador. Necessitamos assumir as rédeas, e perguntarmo-nos se usamos a IA porque nos arrasta a onda ou por agência própria, por nossa iniciativa.
“Em muitos centros educacionais, a IA é a nova cereja imprescindível para que algo seja inovador”
Carlos Magro lembrava que a educação atual está orientada a resultados, qualificação e eficiência, e a IA vai no mesmo sentido, porque está focada a acelerar os resultados. Mas é absurda a busca de uma educação eficiente e sem erros, porque nos leva à burocratização, a tratar de eliminar riscos de que algo saia mal, a um processo de racionalidade – da mão das tecnologias – que vem imposto desde fora da escola.
A IA seria uma grande aliada para esses objetivos de eficiência e produtividade, assim como para a padronização de umas competências bem concretas, mas o que necessitamos é justamente o contrário, ou seja, necessitamos de um sistema que não busque a produtividade, senão que eduque para afrontar a incerteza, para saber o que fazer quando nos enfrentamos ao que ninguém nos explicou antes. Sobre isso a IA não é muito boa, porque está treinada com o que já existe, assim que teríamos que vê-la, mas bem, como um espelho que reflete o passado. Por isso, insistia Magro, a IA não tem muito encaixe na educação.
“A IA está treinada com o que já existe, assim que teríamos que vê-la, mas bem, como um espelho que reflete o passado”
Argumentava Magro que para educar, diante à incerteza, necessitamos voltar à scholé grega que, como dizíamos antes, entende a escola como um espaço para dar-nos tempo, para equivocar-nos, para mudar. Este enfoque vai de encontro com a eficiência tecnológica, com a ideia de que com menos recursos conseguiremos mais resultados.
Para Pepe Cerezo, apresentador do evento e diretor da Biblioteca Digital Journey, na qual se enquadra a obra, a escola deveria ser menos um espaço de adaptação acrítica aos desenvolvimentos tecnológicos e mais um lugar de resistência propositiva. Não se trata de negar os avanços, senão tomar a sério suas implicações, de reclamar protagonismo nas decisões e de estabelecer os ajustes necessários, desde os objetivos educativos e os valores que queremos preservar, como o pensamento crítico, o tempo lento, o erro como parte da aprendizagem e a singularidade de cada trajetória.
Sem dúvida, a educação não pode ser reduzida a um processo técnico e automatizado. Provavelmente nos dirigimos a uma sociedade mais desigual, na qual as famílias com recursos econômicos poderão optar por uma educação presencial e entre pessoas, que respeite o ritmo da maturação, e quem não possa irá a uma escola com menos apoios humanos e mais tecnologia. Deste modo, estaríamos comprometendo os valores essenciais da educação.
Referências
- Carlos Magro y Tíscar Lara (2025). IA y Educación. Una relación con costuras. Madrid: Digital Journey – Trama.
- Héctor Ruiz (2020). ¿Cómo aprendemos? Barcelona: Graó.
- Nuccio Ordine (2013). La utilidad de lo inútil. Madrid: Acantilado.
- Geoff Pety (2023). Una educación basada en evidencias. Madrid: SM.
- Gert Biesta(2017). El bello riesgo de educar. Madrid: SM.